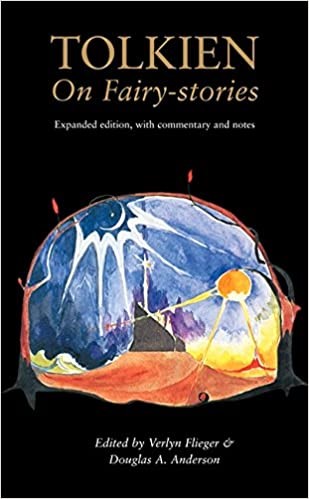Emanuelle Garcia Gomes
Se empreender em um trabalho acadêmico não é uma das tarefas mais fáceis. É preciso ter muita paixão pelo tema de sua pesquisa, mas não pense que isso torna tudo muito menos pesado. Uma pesquisa necessita de dedicação e empenho. O resultado, ainda que cheio de problemas para se alcançar pode ser muito gratificante.
Escolher um tema de pesquisa na área das humanidades, geralmente, está às voltas do que mais o discente se identifica. Na minha área, isso não foi diferente. Depois de uma graduação com um currículo de disciplinas com poucas abordagens que me atraiam de fato, decidi fazer da minha formação como historiadora, algo, prazeroso, porém, denso.
Decidi, já na monografia (trabalho de conclusão de curso) estudar literatura fantástica — um tema muito mais a cara de críticos literários ou estudantes de letras. Minha fonte? J.R.R. Tolkien.
O reconhecimento demorou a aparecer. Ainda que a banca examinadora exaltasse o meu esforço em escrever um trabalho que imprimiu a minha identidade nele, havia quem questionasse a “validade” macro do que eu ali abordava: “qual a historicidade do seu trabalho?”, perguntaram vários professores, uma vez que eu não fazia questão de fazer amarrações contextuais no trabalho sobre fantasia, o mal e o fascínio na literatura do autor inglês.
Todas as perguntas me motivaram a seguir adiante. Busquei uma vaga no programa de pós e depois de esforço e estudo, passei com louvor na prova para fazer Mestrado em História na mesma Universidade. Embora houvesse problemas com relação a bolsas (outros trabalhos soavam mais importantes para o instituto do que o meu), levei um trabalho denso até o fim no prazo de dois anos. A dissertação pretendeu investigar a literatura de fantasia como são, por exemplo, os contos de fadas a partir do aparente impasse entre a racionalidade e a ordem mágica e poética. E é sobre essa experiência e o que o trabalho contém de discussão que abordo neste ensaio.
A imaginação norteia a produção nas artes e, como um ato humano, propõe um olhar mais denso e consistente. Com isso, a fonte dessa investigação foi o literato e acadêmico J.R.R. Tolkien com quem sempre admirei. Sob o viés da criação artística, a tentativa foi formular a contraposição entre duas grandes correntes de análise do efeito proporcionado pela trama que possui sua importância histórica: a tradição platônico/aristotélica versus a tradição estética de Kant e dos românticos.
Depois de me deparar com as perguntas dos professores sobre qual a historicidade de minha pesquisa, pontuei para a minha dissertação: teriam as narrativas maravilhosas algo a dizer? A visão mágica dos textos poderia deixar de ser restrita apenas às crianças?
Por que esse tipo de narrativa seria caracterizado pela teoria literária (bem como os críticos literários) como uma literatura menor? Se elas não têm muito a dizer, por que permanecem conhecidas e constantemente recriadas, ou estudadas e analisadas por outras áreas do conhecimento?
Para dar início à pesquisa, me voltei à leitura minuciosa do livro Sobre Histórias de Fadas, do Tolkien. O ensaio foi escrito a partir de uma palestra sobre os 12 volumes com uma espécie de compilados de contos de fadas, do autor escocês Andrew Lang. A palestra foi pronunciada na Universidade de St. Andrews, na Escócia, em 8 de março de 1939, e o ensaio foi originalmente publicado em 1947, (“Essays presented to Charles Williams” em Oxford). Depois, em forma de livro, publicado junto com “Leaf by Niggle” na primeira edição de “Tree and leaf” em 1964, foi por muitos anos (desde 2011) o meu livro de cabeceira, para os dois projetos de pesquisa: o da monografia ao fim da graduação, e em 2015, para o começo do processo do Mestrado.
Estudar literatura na História, nunca foi tão fácil como pode parecer. Existiam várias situações que precisavam ser muito bem pensadas antes sequer da proposta de pesquisa. Assim, para responder uma aquelas questões, sobre o que a fantasia teria a nos dizer, colocamos o seguinte para a pesquisa: entendemos que a teoria da literatura é moderna; ela supõe a existência de estudos literários instaurados no século XIX a partir do romantismo, tendo uma relação com a filosofia da literatura como um ramo da estética no que reflete sobre a natureza e a função da arte, ou seja, a definição do que é belo e de valor. Lembrando que existe a relação da teoria da literatura com a filosofia da literatura, mas ela não é filosofia, pois não é especulativa nem abstrata, ela é analítica ou tópica.
Sobre pormenorizar obras literárias de cunho fantástico, parecia simples, mas não era. O objeto da teoria da literatura são os discursos sobre a literatura, a crítica e a história literária, nas quais ela questiona, problematiza e organiza. Neste sentido, ela deixa de ser antiga. E a teoria mostra uma diferença: realça a incompatibilidade da história literária com a teoria literária. A teoria contradiz, coloca em dúvida a prática de outros.
Entre a teoria e a prática estaria instalada a ideologia, e esse era um ponto interessante, cerne da minha investigação: a teoria diria a verdade de uma prática, enunciaria as condições de possibilidade dela, enquanto a ideologia legitimaria a prática, dissimulando as condições de possibilidade. A teoria, portanto, é diferente de ideologias, ideias preconcebidas. O ato de pensar ter uma teoria sólida na literatura pode levar-se por um humanismo tradicional de outros, como os dados “homens de cultura” ou “homens de bom gosto”. A teoria se opõe a toda prática que se julga antiteórica ou ateórica, e mais que isso, ela se opõe ao senso comum.
Estava dado o desafio. A teoria da literatura perguntará aos críticos: “O que você chama de literatura?”, “Quais são seus critérios de valor?”. Tudo corre bem quando partilham das mesmas normas e se entendem por meias palavras, mas a crítica, isto é, a conversação que se transforma em diálogos de surdos. E isso é bem complexo.
Não se tratava (e não se trata) apenas de reconciliar as diferentes abordagens, mas também de procurar entender por que elas são diferentes. A teoria da literatura fará perguntas aos historiadores: “O que você chama de literatura?”, “Que peso você atribui a suas propriedades especiais ou a seu valor especial?”.
Uma vez que se reconhece que textos literários possuem distintos traços, você os trata como documentos históricos e procura neles as causas factuais: a vida do autor, o quadro social e cultural, as intenções atestadas e as fontes. É um paradoxo: explicar pelo contexto a literatura que se interessa precisamente porque escapa desse contexto e sobrevive a ele. (COMPAGNON, 2010, p. 14–22)
Por essa razão, o nosso autor fonte, J.R.R. Tolkien, enquanto literato, possui obras que escapam do contexto histórico e suas obras sobrevivem ainda, sendo lido e relido pelos (bons) leitores. Bons leitores, que, usualmente, não se interessam pelas questões de contexto ao terem contato com as suas obras. É este o grande impasse no trato de uma literatura como a do autor inglês e era esse o meu grande embate com os confrontadores do meu trabalho.
As justificativas da crítica é o ato de relegar o conteúdo das obras ao público infantil e por essa razão, estabelecer uma análise de simpatia ou antipatia, levando em conta o público-alvo. As justificativas de acadêmicos é o ato de situar as obras enquanto proposições mercadológicas e/ou narrativas escapistas.
Procurei assim, dar lugar ao Tolkien como um sujeito histórico, autor de livros de fantasia, que era um exemplo de ponto fora da curva: seria apenas um acaso, não intencional que só crianças se interessem pelos “contos de fadas” e ainda, os livros do próprio serem um sucesso de vendas, também era algo que não havia premeditado.
A Literatura como fonte histórica se mostrava então, cheias de detalhes dignos de atenção. A História é uma construção que como tal coloca em análise tanto o presente como o passado. A objetividade é uma tentativa ilusória, pois enquanto historiador, ele sempre estará engajado nos discursos pelas quais ele constrói o objeto histórico.
Sem estar consciente disto, a História é uma projeção ideológica: algo posto por autores como Michel Foucault e Jacques Rancière. Assim o historiador que toma a literatura como objeto de estudo, se vê muito “solto” sem uma base de apoio, pois os contextos são construções narrativas ou representações.
Dentro deste prisma, o foco da minha dissertação foi considerar os escritos teóricos de Tolkien sobre as histórias de fadas (a partir de uma palestra, publicada com o mesmo título) como uma fonte importante de análise para seus escritos literários — embora, não tenhamos usado exemplos de sua aplicação direta em suas obras literárias, ainda que, muito remotamente, algumas citações tenham sido indispensáveis.
O desenvolvimento da discussão da seguinte forma:
No primeiro capítulo, salientamos por que as interpretações correntes sobre a obra de Tolkien estão quase sempre traçadas por caminhos semelhantes entre si e perceptíveis. Esta é uma tradição interpretativa que revela muitas das vezes, as intenções por trás da teoria, submetendo-a um “padrão” ao conhecimento das artes.
Destacamos os passos iniciais da teoria literária mobilizada por Tolkien em seu “Sobre Histórias de Fadas”, comparando-os à abordagem de alguns autores e seus ensaios sobre as obra literárias enquanto alegorias: o que seria, portanto, uma alegoria e por que ela se torna problemática em nossa análise? Por isso, a discussão se deu com autores que convergem em uma defesa desta interpretação alegórica da literatura que trata da mitologia, como Hans-Georg Gadamer, Giambattista Vico e Georg W. F. Hegel.
Diante disso, tornou-se possível notar as inconsistências presentes no enquadramento da concepção ‘tolkieniana’ de literatura a este cânone interpretativo centrado no conceito de alegoria. Algumas pistas do próprio pensamento do autor demonstram-nos a pertinência em tratar sua concepção a respeito da literatura a partir de outro viés interpretativo. Assim, no segundo capítulo, partimos para as proposições encontradas na “Crítica da faculdade de juízo” de Immanuel Kant, esta traz a delimitação de uma possibilidade que “destrona” a interpretação eminentemente alegórica e que, por sua vez, busca outro meio de pensar essas questões colocadas em torno da concepção de literatura em Tolkien.
O kantismo — sobretudo a partir de sua “Crítica da faculdade do juízo” — foi retomado por autores românticos do século XIX e trouxe novos elementos para interpretar o que é a literatura, o que é o juízo estético sobre a beleza e, ao mesmo tempo, estabeleceu um franco questionamento aos cânones da poética clássica a respeito das hierarquias de gênero, de caracteres dos personagens e da própria “finalidade moral” dos textos poéticos e/ou literários.
Para este momento, foi possível inserir as colocações sobre literatura infantil de Peter Hunt, para entendermos melhor o porquê da “relegação” — para usar um termo de Tolkien — da literatura dita fantástica como se fosse própria somente às crianças. Entendemos, ao longo de nossa investigação, que é a partir de colocações de Kant sobre o juízo de gosto estético e sua aplicação à arte/literatura que podíamos traçar argumentos que corroboram para a definição que Tolkien faz a respeito da criação escrita de um “mundo secundário” — o qual ele chama de “subcriação”.
Na discussão, sobre os aspectos da tradição interpretativa alegórica, situamos nosso ponto-chave em dois elementos do pensamento kantiano exposto na terceira crítica: o belo e o sublime. Kant vinculou os conceitos de belo e sublime em aspectos derivados da diferença entre juízo estético e juízo lógico ou de conhecimento — o que coloca, de certa maneira, uma ruptura com a tradição acadêmica inspirada na interpretação alegórica da literatura.
As diferentes formas de se reagir às obras literárias fantásticas estavam dadas. Uma análise histórica sobre A Metamorfose de Franz Kafka por exemplo, não encontraria bloqueios. As nuances simbólicas do homem que se transforma num inseto por conta da sua condição de vida para e pelo trabalho, estaria às claras para um historiador, enquanto se identifica facilmente o pano de fundo do homem submisso ao trabalho e dependente do dinheiro, moldado a ser o que não é. Mesmo sendo fantasia, neste exemplo, não parece ser um entrave, enquanto a intenção do autor é mostrar a metáfora do que a narrativa impõe como contexto.
E uma obra fantástica maravilhosa?
Os conceitos que surgem no livro Sobre História de Fadas, como a questão da “recepção” dos textos do Belo Reino ou o conceito de Samuel Taylor Coleridge de “suspensão voluntária de descrença” como critério, explicaria o movimento entre o autor subcriador bem-sucedido e o leitor de sua obra. Esse assunto era o terceiro momento discutido na pesquisa.
Ao contrário do que se poderia admitir Tolkien não segue a ideia de que a “suspensão da credulidade” seria o elemento-chave para a interpretação da literatura fantástica. Neste aspecto, a concepção tolkieniana de literatura não segue todos os elementos da tradição inaugurada pelo romantismo, mas que se estabelece justamente na suspensão da relação entre o que é “real” e o que é “ficcional”, que é própria de uma discussão a respeito da estética como “desierarquização” entre estas instâncias — novamente, talvez mais próxima de Kant e dos românticos alemães do que de Coleridge.
Sobre a ideia de literatura em Tolkien a partir desta contraposição entre a tradição alegórica e discursiva, de um lado, e a noção estético-literária derivada de aspectos do pensamento kantiano/romântico, de outro, foi importante resgatar quais são os conceitos e critérios empregados pelos diversos autores para demonstrar porque a ideia de literatura em Tolkien pode ser bastante diferente do que a tradição interpretativa baseada na alegoria propõe.
O que seria a história literária então, senão, uma colagem de textos e discursos fragmentados ligados a diferentes tempos, alguns mais históricos, outros mais literários que são, sejam como forem, como um teste a que é submetido o cânone transmitido pela tradição? (COMPAGNON, 2010, p. 220). A investigação, por fim, traz dois autores contemporâneos que debatem a ideia de literatura a partir da ruptura entre a tradição clássica e a mudança inaugurada por Kant e os românticos alemães:
Michel Foucault, em seu livro As Palavras e as Coisas, onde discute sobre a ideia de representação e seu rompimento na chamada episteme moderna — o que nos levou a pontuar as divergências e convergências entre a literatura e as ciências humanas em seu regime de verdade, para assim podermos esclarecer os pontos de “quebra” da tradição da poética clássica.
E Jacques Rancière e seu questionamento da literatura com base somente na imaginação do autor, entendendo-a como algo que justamente escapa do controle dele próprio. A questão não é que a compreensão de uma obra literária se dê mediante uma explicação simplista, garantindo que teria vindo da imaginação genial do autor, a literatura seria, na visão de Rancière, a expressão de um regime instável entre as palavras e as coisas chamado de “regime estético da arte”.
Trabalho árduo, mas gratificante, concluído em 2017, e mesmo sem trabalhos apresentados em eventos específicos da História, pude considerar que não era “o fim da linha. Com ele, pude considerar um pouco mais em apresentações como convidada em outras universidades, sobre a contribuição histórica de J.R.R. Tolkien.
A visão de Tolkien sobre o ato de escrever literatura estava significativamente relacionada a uma conexão entre mito e o fato que remonta à própria natureza da linguagem. Tolkien elaborou uma compreensão complexa da relação história e mito, por um lado, e realidade, por outro, e de como a própria linguagem se relaciona com a realidade. Assim sendo, a história e a linguagem faziam parte do mesmo processo inventivo humano e estavam intrinsecamente relacionadas.
A crença que, por vezes, na mais alta função da arte fosse a subcriação, a criação de mundos secundários coesos e consistentes, funcionasse para os leitores, agradando; como também por causa dessa precisão imaginativa, as obras fossem capazes de capturarem parte das profundidades e grandezas do mundo primário, seja quais, quando ou a que lugar pertencem. A qualidade metafórica, simbólica de um mundo inventado, seja ele ambientado neste mundo, ou em outro, aprofunda ou modifica a nossa percepção da realidade, conferindo ao Tolkien uma sagacidade importante sobre as artes (no caso, a literatura).
Uma das ideias que a pesquisa propiciou formular é que as obras de Tolkien demonstravam uma percepção de realidade que poderia ser atemporal e que vivificasse o nosso espírito humano. Assim, Tolkien teria uma visão e compreensão da História com um significado além dela própria, apontando para uma realidade diferente de si mesma. Isto é, essa visão aplica-se de modo amplo (talvez subjetivos) e não com noções simplistas, óbvias.
Uma afirmação talvez polêmica para historiadores, mas que não está de modo algum muito longe de ser cogitada, pelo menos, é que a ficção para Tolkien era, portanto, uma criação de significado (ou melhor dizendo, de significados), e não uma reafirmação literal de verdades. Afinal, se assim tratássemos suas ideias, poderíamos recair na visão hegeliana de arte provinda do “espírito”, maior que a natureza e nos aproximar da noção alegórica das intenções artísticas e não, de uma aproximação simbólica da qual Tolkien parece se identificar com mais franqueza.
Ler uma obra fantástica como expressão do autor ou do seu momento de execução da obra, e não como um artefato artístico destinado à compreensão de quem a lê, perde parte de seu significado, fechando a obra em si mesma. Por essa razão, a aproximação com o pensamento de Jacques Rancière, de que o espectador da arte tem a liberdade da compreensão dela, parece mais propício refletir.
Boas obras de imaginação não poderiam ser reduzidas a moral, lições ou doutrinas, todavia, tais noções podem ser capturadas delas. Isto é, quanto mais verdadeiras elas forem, mais aplicações poderão ser retiradas destas obras.
Compreendemos que a historicidade das obras de Tolkien está inerente a isso, e por isso, suas obras são relidas e dadas às aplicabilidades diversas desde a publicação. Seus escritos literários não encontram um lugar fixo na História não na maneira pela qual o autor “representa” uma época ou um momento histórico com mais ou menos semelhança sob o critério da alegoria, mas sim, na maneira pela qual não se tornou mais possível estabelecer limites claros sobre os símbolos que contém em sua mitologia, e qual o alcance deles, já que não se estabelece, de forma correlata, um limite entre a arte e a não arte, a ficção e a realidade, as palavras e as coisas.
Numa resenha sobre O Senhor dos Anéis, C. S. Lewis refletiu algo contundente com as minhas investigações até o momento:
“O que mostra que estamos lendo um mito, não uma alegoria, é que não há indicadores de uma aplicação especificamente teológica, nem política, nem psicológica. Um mito aponta, para cada leitor, para o reino no qual ele mais vive. É uma chave-mestra; use-a na porta que quiser.” (DURIEZ, 2018, p. 267)
Bibliografia
COMPAGNON, A. O demônio da teoria: literatura e senso comum. Tradução: Cleonice Paes Barreto Mourão e Consuelo Fortes Santiago. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.
DURIEZ, C. J. R. R. Tolkien & C. S. Lewis – O Dom da Amizade. Rio de Janeiro: Harper Collins, 2018.
HEGEL, G. W. F. Cursos de Estética, volume II. São Paulo: EDUSP, 2000.
KANT, Immanuel. Crítica da Faculdade do Juízo. Rio de Janeiro: Forense. Universitária, 2008.
RANCIÈRE, Jacques. Políticas da escrita. São Paulo: Editora 34, 1995.
TOLKIEN, J. R. R. Sobre Histórias de Fadas. São Paulo: Conrad Editora do Brasil, 2010.